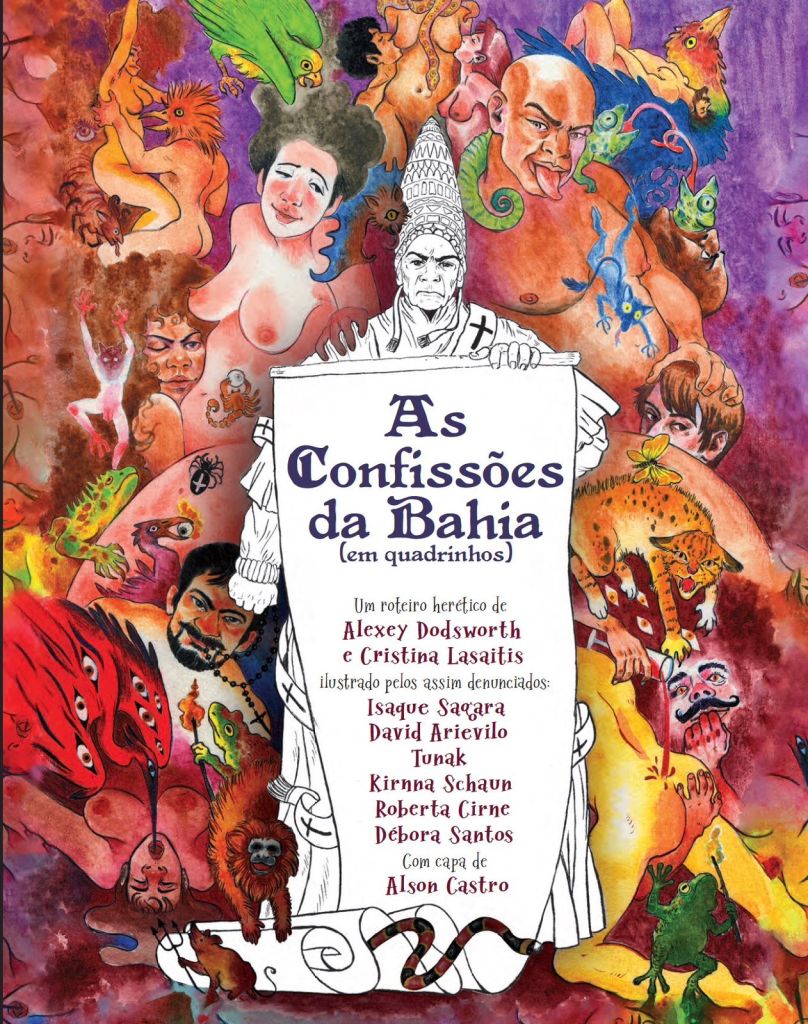Às vezes me espanta como os momentos que mais me levaram a escrever nos últimos anos foram aqueles de perda e de luto. Foram-se amigos, foram-se referências, e nesses instantes me sinto impelida a falar enquanto as memórias e as emoções estão transbordando.
Posso não demonstrar muito, mas sou apegada a pessoas queridas e às coisas que elas fizeram e me tocaram de alguma forma. Meus lutos são demorados, passo bastante tempo homenageando os mortos em pensamentos, projetos e lembranças.
Faz um mês que se foi uma das referências que tiveram impacto nos meus tempos de formação e que, por isso mesmo, entrou inevitavelmente para o panteão das minhas musas – ele, uma das minhas poucas musas do gênero masculino.
Porque, caramba, André Matos, que composições, que voz, que presença de palco, que agudos fulminantes eram aqueles? E ainda falava um milhão de línguas, era culto em um nível estelar, vegetariano, low profile e gente boníssima.
A parte gente boníssima eu confirmei em primeira mão — ele no papel de ídolo, eu no papel de fã, aquela cena que se repete em todos os after shows universo afora. Mas foi curioso.
Era o ano de 2001, eu estudava num cursinho pré-vestibular do Tatuapé, e no caminho de poucos quarteirões entre minha casa e o cursinho situava-se a André Music Center, uma loja de discos dedicada ao rock e ao metal (e que não tinha nenhuma relação com o André Matos, eram Andrés diferentes), bem ali onde eu peregrinava todos os dias. Foi nessa loja que gastei um tanto do meu magro dinheiro adquirindo relíquias adoradas — como CDs do Enigma (que é outro dos meus paraísos musicais), os CDs do Angra, que comprei de segunda mão, e até o CD do Virgo, que adquiri numa barganha desesperada com meus CDs velhos.
Eis que um dia, passando diante da André Music Center, vi um cartaz anunciando a venda de ingressos para um “show de despedida” do Angra, ou coisa assim, no galpão da Led Slay, que era no meu bairro e já nem existe mais. A questão era que o Angra já havia sofrido o divórcio da formação original, eu era nova demais para ir a shows, menor de idade, não tinha nem dinheiro, nem a liberdade, nem a companhia para tanto. Era uma decepção da vida minha banda favorita ter se separado sem que eu pudesse sequer tê-la visto se apresentar. Aquele “show de despedida”, que seria apenas com os membros que mais tarde formariam o Shaman, era uma oportunidade única.
Tanto pedi que minha mãe não teve como dizer não. Mas sozinha eu não iria, então ela foi comigo. E o galpão da Led Slay testemunhou essa cena memorável: uma senhorinha de óculos e blusa de lã a passar a noite de braços cruzados, vigiando a filha, as duas cercadas por metaleiros cabeludos batendo cabeça e tocando guitarras imaginárias por todos os lados.
Nothing to Say, Carry On, Make Believe, Living for the Night, sei lá mais quantos hinos adorados eu pude curtir como se não houvesse amanhã — porque, de certo modo, não havia amanhã mesmo, a fase lendária da banda havia acabado. E quando eu soube que no fim do show era possível se aproximar dos músicos, condenei minha mãe a esperar comigo até as cinco da manhã… e dava pra tocar umas três mil Carolina IV nessas horas de espera.
Na saída do show, já com o dia raiando na avenida Celso Garcia, me aproximei meio sem jeito daquele cabeludo de óculos a tirar fotos com os fãs, eu mesma não tinha nada a pedir, nem foto nem autógrafo, só quis mesmo lhe dar um abraço e desejar sorte com a banda nova, o Shaman.
E esses foram meus poucos segundos na órbita do André Matos.
Eu só o veria novamente mais uma vez, em 2003, no show do Shaman que foi eternizado com o DVD RituaLive. Dessa feita, fui com um amigo e paguei exatos dez reais por um lugar no Everest mais distante da arquibancada do Credicard Hall, onde o oxigênio era rarefeito mas dava para ter uma visão panorâmica de tudo. E se tem momentos que marcaram minha memória, foram: 1) o Credicard Hall inteiro num êxtase monumental durante a performance de Fairy Tale; 2) André Matos duelando agudos consigo mesmo ao microfone; 3) André Matos parando o show para imitar pastor evangélico: “IRMÃÃÃOOOS, ALELUIA!…”(pois é, eu vivi pra ver isso).
Ainda preciso rever esse show, hoje disponível no Youtube. Ainda preciso parar para ouvir com atenção os álbuns do Shaman, porque o fato é que o Shaman nunca conseguiu capturar minha atenção da mesma forma que aquela formação brilhante do Angra, que deixou como legado Angel’s Cry, Holy Land, Fireworks — três dos melhores álbuns de heavy metal que este mundo já conheceu, não só por serem bons, mas por serem únicos.
Porque havia ali, naquelas músicas, naquela banda, naquela fase, um equilíbrio, uma pegada, um casamento raro da agressividade do metal com a suavidade da música clássica, além das influências da música brasileira, além dos arranjos sofisticadíssimos — e é claro que a união desses elementos não levaria a lugar nenhum se as composições não fossem geniais, se as execuções não fossem magníficas, se os álbuns não tivessem sido produzidos com esmero, se a banda e tudo o que ela era em som e performance não hipnotizasse desde o primeiro acorde.
Eu gostava de Angra como nunca gostei de Iron Maiden. Como jamais gostarei.
E é prazeroso e engraçado saber que, de todos os lugares do mundo, essa banda é da minha cidade, seus integrantes nasceram, cresceram, se reuniram aqui, viajaram o mundo e voltaram ou continuaram conectados com São Paulo. Falamos a mesma língua, transitamos pelas mesmas ruas, partilhamos a mesma cultura. O coração nativista se aquece.
Mas eu falava do Shaman, e podia falar o mesmo do Angra II (trocadilho nuclear não intencional) — aconteceu com essas bandas-filhas do Angra original algo semelhante ao que aconteceu com outra banda das minhas adorações: o Nightwish. O Nightwish era um arroubo, um desbunde de maravilhas do heavy metal sinfônico, e a justificativa para grande parte dessas qualidades se encontrava em duas cabeças: a do compositor extremamente genial e a da vocalista soprano lírica de voz abismante. Quando a banda prescindiu de uma dessas cabeças, despencou patamares, talvez irrecuperáveis para ambos os lados da rachadura. Porque, como se sabe, dentre os músicos de uma banda ninguém é insubstituível — mas nas leis que regem os corações dos fãs e as vibrações lá das esferas musicais, às vezes, é.
Minha intenção com isso não é dizer que as bandas não deveriam se separar e que músicos que não se aturam mais deveriam conviver até o final dos tempos. Tampouco estou dizendo que o que produziram depois desses cismas seja irrelevante. Na real, essa é só minha tentativa de justificar porque, lá pelos idos de 2003, parei de acompanhar de perto a carreira do André Matos no Shaman, assim como deixei de acompanhar o Angra II, e mesmo o Nightwish pós-Tarja e a Tarja solo. Porque, para mim, a soma das partes já não fazia uma exponencial (sou de humanas, desculpe). E porque, de todas essas bandas, eu ouvi só umas poucas músicas inéditas que estouraram desde então.
E aí a agulha da vitrola dá um salto para 2019, dia 8 de junho, quando morreu André Matos e eu me senti como quem leva um raio na testa enquanto está atravessando a avenida. Não apenas porque dói saber que a morte chega para os seus artistas favoritos (assim como há de chegar fatalmente a você), mas porque me dei conta, num súbito, que apesar de ele ser uma referência importante, 15 anos haviam nos atravessado sem que eu soubesse o que mais ele produziu, por onde andou.
No descarrilar dessas últimas semanas tenho me lançado nessa arqueologia. Reouvir os CDs antigos. Assistir a fragmentos de shows, entrevistas. Descobrir o que perdi enquanto estava ocupada demais vivendo.
Eu nem sabia, por exemplo, que o Shaman havia se separado em 2006 e o André Matos havia fundado uma banda solo, com a qual produziu três álbuns.
E não sabia que ele reunira o Viper no início desta década. E que andava em reunião com o Shaman desde ano passado. E começava-se a cogitar agora uma reunião da primeira formação do Angra!
E que ele andava se apresentando em concertos solo — André Matos: Piano & Voz — pelos SESCs do mundo. (Me responda, Apolo, como foi que perdi isso?)
Ao mesmo tempo em que sigo na arqueologia, e ela me faz emagrecer quilos na esteira de tanto correr heavy metal, quero gritar pro mundo a existência de músicas muito além dos hits, muito além das mais lembradas.
Rainy Nights e Reaching Horizons, os singles baladinhas do Angra, sublimes. Stand Away e Metal Icarus, com agudos de furar o céu. A dramática Paradise. The Shaman, que nunca vi o Angra tocar em lugar nenhum. Mystery Machine e seus riffs de guitarra intrincados — que melodia mais desóbvia, rápida e rocambolesca, SE-NHOR, como eu não tinha adorado isso antes?
Virgo — o projeto do André Matos com o produtor musical Sascha Paeth — esse álbum merecia demais ter subido aos palcos ao menos uma vez, e músicas como To Be, No Need to Have an Answer, Rivers e I Want You To Know mereciam ser conhecidas, andar pelo mundo. Pelas rádios.
Das participações especiais do André:
Bem-Aventurados, com o Sagrado Coração da Terra. Letra fofa, adoravelmente meio brega. Uma rara chance de ouvi-lo cantar em português (quisera que tivesse feito isso mais vezes).
I Believe Again, com a banda italiana Time Machine, da qual eu nunca soube nada, a não ser o fato de que produziu essa delicadeza de música com o vocal do André, pequena joia.
Da André Matos banda ainda estou por desbravar os álbuns, mas descobri com muita surpresa que gravaram um cover de Fake Plastic Trees,do Radiohead — sabe? Fake Plastic Trees? Essa música que vai subindo aos poucos, num arrepio progressivo, até estrangular a alma lá no ápice? Então, ficou muito boa e diferente na voz do André e por hora é o que tem tocado em repeat nos meus áudios.
E se tem uma coisa que eu diria para o André Matos a esta altura é:
CARALHO, você era FODA, e eu não uso palavrões em vão.
A música é uma comunhão de almas, poucos são os gênios que fiam e tecem essa conexão emocional com tamanha destreza e intensidade, e blá blá blá, mas repare:
Não existe uma conclusão para essa sinfonia que tropeça e se arrasta sem desfecho desta cidade para o mundo; ficamos órfãos dessa arte com uma assinatura tão particular, felizes com o legado, mas felizes e de coração partido, desvairados, cantando como cantaremos ainda décadas — talvez séculos — à frente Carry On: com nossas guitarras imaginárias, buscando no céu as notas que nossos agudos jamais serão capazes de alcançar.
Porque você era foda.
Rest in plenitude.

_____________________________________________________________________________________________
Artigo publicado também no Whiplash.